Coronelismo Brasileiro: um sistema que não acabou Brazilian Colonelism: a system that did not end
- Giovanni Paolo Ruffini
- 2 de fev. de 2018
- 9 min de leitura
Gostou do texto? Quer citar este artigo? Use a seguinte referência:
RUFFINI, G.P. Coronelismo Brasileiro: um sistema que não acabou. Revista de Ciências Brasileiras, v. 1, p. 18-24, 2018.
Resumo
Em diversas páginas da história da humanidade, especialmente em épocas onde a concentração de poder e a formação do Estado estavam em constante aperfeiçoamento e desenvolvimento, houveram diversos episódios envolvendo o anseio de grupos pela dominação social. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo investigar bibliograficamente os aspectos sociais acerca do coronelismo no Brasil, associado as relações de poder e Estado, assim como a sua perpetuação direta ou indiretamente regendo a sociedade brasileira. A partir das informações coletadas, concluiu-se que, mesmo que as terminologias históricas e alcunhas não sejam mais utilizada, os conceitos e a abordagem de construção política e social do coronelismo continuam enraizados na política brasileira, basta que se olhe mais atentamente as províncias interioranas Brasil afora, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde este sistema infelizmente continua predominando. É fato que a sociedade brasileira desde sua construção social na época da submissão à coroa portuguesa até os dias atuais continua sob um sistema coronelista, onde grupos locais auto denominam-se senhores das populações brasileiras, mais especificadamente de municípios e muitas vezes Estados inteiros. Estes reúnem-se esporadicamente para decidir a seu bel prazer os destinos de milhões de brasileiros como lhes convém, e tampouco estão preocupados com os avanços da sociedade brasileira, se isso não vos interessar.
Palavras-chave: assistencialismo, contexto histórico, coronéis, política.
Abstract
In several pages of the humanity history, especially in times where the concentration of power and the formation of the State were constantly improving and developing, there were several episodes involving the wish of groups for social domination. According of the above, this study aimed to investigate bibliographically the social aspects about colonelism in Brazil, associated with relations of power and state, and its perpetuation directly or indirectly governing Brazilian society. From collected informations, it was concluded that, even if historical terminologies and nicknames are no longer used, the concepts and approach of political and social construction of colonelism remain rooted in Brazilian politics, as look in more rural provinces of Brazil, especially in the North and Northeast regions, where this system unfortunately continues to predominate. It is a fact that Brazilian society, from its social construction at the time of submission to the Portuguese crown to the present day, continues under a colonel system, where local groups call themselves masters of the Brazilian populations, more specifically of municipalities and often entire states. These meet sporadically to decide the destinies of millions of Brazilians according its wish, without interested in advances of Brazilian society, if that does not interest.
Keywords: assistance, colonels, historical context, politics.
Introdução
Analisar as relações entre Estado, sociedade e, consequentemente, o elemento “poder”, consiste em uma reflexão bastante aprofundada, em face de o poder ser um dos fatores preponderantes que regulamentam e regulam a vida social do indivíduo. Diz-se isto, pois, para que se obtenha um governo justo e adequado é necessário que o sujeito que está revestido de poderes para governar saiba dosá-lo e aplicá-lo em proporções adequadas em prol da sociedade (LUZ & SANTIN, 2010).
Em diversas páginas da história da humanidade, especialmente em épocas onde a concentração de poder e a formação do Estado estavam em constante aperfeiçoamento e desenvolvimento, houveram diversos episódios envolvendo o anseio de grupos pela dominação social. Neste contexto, a concentração do poder local e sua fortificação consolidaram as denominadas “práticas coronelistas”, confundindo estas com a própria história da gestão pública brasileira (STREIT, 2003; STRECK & MORAIS, 2010).
Observa-se ainda que, especificamente pelo fato do poder local ser utilizado como ferramenta para defender e garantir interesses de classes dominantes tanto antigamente como nos dias atuais, este grupo tem como único objetivo controlar a sociedade ao passo de tê-la em suas mãos e, em outra perspectiva, explorar riquezas e recursos públicos para revertê-los em favores próprios, de familiares e de sujeitos interligados diretamente a essas denominadas “elites” (NIVALDO JUNIOR, 2005; LUZ & SANTIN, 2010).
Nesse mesmo sentido, Wolkmer (2003) é consoante ao afirmar que “O Estado pode ser compreendido ora como um jogo de papéis e funções que se interligam e se complementam na esfera de uma estrutura sistêmica, ora como um aparelho repressivo que tende a defender os interesses das classes dominantes no bloco hegemônico de forças”.
A disputa por um espaço que garanta a possibilidade de obter poder é permanente, em todos os lugares e posições sociais. E como todo poder sofre limitações, por mais absoluto que ele aparente ser, por mais sólidos que sejam seus fundamentos, o mando coexiste com ameaças que nunca se esgotam. Em outras palavras, “governar é impor e conciliar. Todo exercício do poder exige autoridade de quem manda e cumplicidade de quem é mandado. Poder é tensão permanente. É disputa que não cessa. É jogo sem intervalo”. (NIVALDO JUNIOR, 2005).
Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar bibliograficamente os aspectos sociais acerca do coronelismo no Brasil, associado as relações de poder e Estado, assim como a sua perpetuação direta ou indiretamente regendo a sociedade brasileira.
Contexto histórico
No período denominado “República Velha” compreendido entre 1889-1930, o sistema organizacional político brasileiro resume-se pela superioridade hierárquica da esfera de poder estadual perante as esferas federal e municipal.
A justificativa para tal prevalência se deve à vitória do federalismo republicano sobre o “excessivo centralismo monárquico” (COLUSSI, 1996).
Diante do notório enfraquecimento do poder central, contatou-se a necessidade de
uma readaptação do sistema político que possibilitasse uma maior concentração de poder. Foi aí então que se instituiu a democracia representativa (ideal positivado na Constituição republicana de 1891), por intermédio das eleições, através da governança de líderes locais, os “coronéis”, que predominavam especialmente em localidades distantes dos grandes centros de desenvolvimento (LUZ & SANTIN, 2010).
Este título de “coronel” remete à criação da Guarda Nacional do Brasil, em 1831, pelo governo imperial, em substituição às milícias e ordenanças, objetivando defender a constituição e a integridade do império. E em seus quadros eram nomeados pelo governo central ou pelos presidentes de província, abrindo assim espaço para o tráfico de influências e a corrupção política.
A patente de coronel tornou-se equivalente a um título nobiliárquico, no caso, concedida de preferência aos senhores de terras, que assim adquiriam autoridade para impor a ordem sobre o povo e os escravos. E sem fiscalização direta, o coronel personificou a invasão particular da autoridade pública, favorecido por um sistema que o nomeava e havia uma mutua sustentação.
Desse modo, os coronéis exerciam o papel de intermediação do relacionamento entre as populações e a esfera pública (COLUSSI, 1996, p. 15-16), sendo a eleição considerada o momento mais importante da exteriorização da disputa pelo poder local, sobretudo enquanto possibilidade de serem obtidas as graças do governo estadual, assegurando-se, com isto, a continuidade do reconhecimento social do prestígio político.
Ainda segundo Colussi (1996), o coronelismo, visto como fenômeno político e social, foi expressão de uma sociedade predominantemente rural e que abrangia a maioria dos municípios brasileiros. O poder privado fortalecia-se em consequência do isolamento, do atraso econômico e da falta de comunicação dessas localidades com os centros mais desenvolvidos. O único contato das populações com o aparelho de Estado dava-se em períodos de eleições, quando o voto significava a possibilidade de obtenção de favores ou de alguma melhoria material (STREIT, 2003).
Por sua vez, o poder estadual não se interessava em constituir municípios econômica e socialmente fortes, dotados de pleno desenvolvimento, a fim de possibilitar um crescimento coletivo e estruturar um Estado extremamente desenvolvido. Muito pelo contrário, sua intenção era apoiar a preservação e aprimoramento do poder local, através da figura dos coronéis, encarregados de intermediar essa política, mantendo uma relação de dependência com o poder estadual e vice-versa (LUZ & SANTIN, 2010).
Logo, os coronéis eram detentores absolutos do poder local dentro de sua abrangência territorial, em grande parte das vezes com o apoio do governo estadual, num
processo de troca de favores. Eram personalidades sociais dotadas de liderança e
absolutamente respeitadas pela população, liderança esta que, muitas vezes, era equiparada a uma espécie de “santo milagroso”, devido a sua larga prestação de favores
à população (STREIT, 2003; LUZ & SANTIN, 2010).
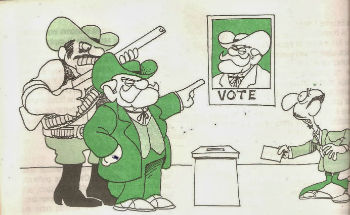
Charge representando o regime imposto pelo Coronelismo em seus primórdios. Sistema permanece enraizado na política brasileira, porém com outras abordagens e alcunhas.
Bases filosóficas do coronelismo
O coronelismo consolidou-se através de um conjunto de ações políticas dos latifundiários brasileiros, denominados coronéis, que devido ao seu poderio econômico, intelectual ou social, pelo uso da força (muitos possuíam suas milícias particulares), prestígio familiar, popularidade e/ou habilidade política, eram investidos do poder de controle nas localidades em que exerciam suas atividades. Influenciavam diretamente na atuação dos poderes públicos instituídos, já que tinham o domínio econômico e social de suas regiões, a fim de possibilitar a manipulação eleitoral em causa própria ou de uma oligarquia a que faziam parte (LUZ & SANTIN, 2010; LEAL, 2012).
Este é fruto de um aparato político originário no período do Brasil imperial e desenvolvimento durante o período compreendido por República Velha, consubstanciado pelo conjunto de relações de interesse entre os coronéis e o poder público. Essa relação existente garantia a detenção do poder local nas mãos dos coronéis e a efetiva permanência e fortalecimento do poder das elites políticas locais (LEAL, 2012).
Os coronéis adotavam políticas que visavam “cercar” o município dos grandes centros de desenvolvimento, ou seja, não se preocupavam em firmar parcerias com regiões vizinhas que pudessem garantir um desenvolvimento regional e auto-sustentável. Acaso isso acontecesse, o objetivo era unicamente a manutenção do poder dos coronéis na localidade (LATORRE, 1997; LUZ & SANTIN, 2010; LEAL, 2012).
Desse modo, a população era escrava das determinações dos coronéis e sempre que precisavam exercer os seus direitos sociais mais básicos como a saúde, por exemplo, tinham de se dirigir a esses coronéis para requisitar. Tais concessões desses direitos eram vistas como favores pela população, e isso obviamente fortalecia sua influência que, em contrapartida, delegava cada vez mais poder ao poder central (LATORRE, 1997).
E no que tange ao poder local, este encontrava-se notoriamente concentrado nas mãos dos coronéis, que delegavam cargos públicos aos mais variados entes parentais e interessados, sem se interessar em zelar pela qualificação profissional para a investidura e exercício do cargo público a eles destinado. Isso só colaborava em retardar o crescimento e desenvolvimento do município, mas como já se sabe era o que realmente os coronéis almejavam: o controle absoluto de uma população enfraquecida.
Coronelismo no Brasil contemporâneo
Nas últimas décadas da história brasileira, mais especificamente os últimos 50 anos, é fato que houve uma mássica migração da população rural para as cidades, principalmente atraída pelo processo de industrialização. Todavia, mesmo abandonando o cenário rural personificado pelo atraso, a relação entre o coronel e o voto de cabresto parece sobreviver nas entranhas da política brasileira sob novas de “coronelismo”, apresentando outras alcunhas, ícones, cenários, mas, com a mesma política de atraso de desenvolvimento e concentração de poder da população sob as mãos de alguns.
Apesar da alcunha de “coronel” ou “coronelismo” não ser mais amplamente utilizada, os conceitos e a abordagem de construção política e social deste sistema continuam intactos, basta que se olhe mais atentamente as regiões interioranas Brasil afora, principalmente nas duas regiões citadas anteriormente.
A relação de reciprocidade ganha novos contornos com o passar dos anos e amplia a sua esfera de atuação para outras arenas, onde há mesma relação de reciprocidade pela troca de pequenos favores assistencialista à população pelo voto e a perpetuação do cabresto de políticos infelizmente é alimentada.
O advento das mídias eletrônicas de massa e sua universalização, antes a televisão e atualmente a internet, associados à uma população com baixíssimos níveis de educação, transformam num meio hegemônico de informação e, mais grave que isso, num meio hegemônico de formação e de indução de opiniões e costumes mal formados, criando uma versão moderna do coronelismo, infinitamente mais abrangente e perigoso que a experiência descrita nos livros de história.
Historicamente, diversas páginas da nossa história comprovam este fenômeno, tal o episódio onde o ex-senador Antonio Carlos Magalhães, quando ministro das Comunicações do governo de José Sarney, distribuiu canais de rádio e televisão a todos os grupos políticos regionais dominantes, especialmente no Norte e Nordeste do País, e articulou a filiação de muitos desses canais à mais poderosa das redes privadas de televisão, à qual ele estava, na época, umbilicalmente ligado. Assim nasceu uma relação de crescente promiscuidade entre o poder político e o poder da mídia que durante muito tempo desvirtuou a democracia brasileira.
Aliás, estas duas regiões (Norte e Nordeste) são os maiores exemplos de coronelismo moderno, pois apresentam todas as características descritas pelos historiadores como as bases políticas e filosóficas deste regime à época de sua criação, principalmente a centralização do poderio econômico e dos serviços, controle intelectual e social, uso da força (posse de milícias particulares e desarmamento da população), prestígio familiar, popularidade e/ou habilidade política para manipulação de massas, principalmente através de práticas assistencialistas e trocas de favores, dentre outras.

Charge representando as famigeradas práticas assistencialistas. Estas podem ser consideradas um exemplo concreto que o regime coronelista jamais deixou a política brasileira, apenas se modernizou.
Conclusões
A partir das informações coletadas, concluiu-se que, mesmo que as terminologias históricas e alcunhas não sejam mais utilizada, os conceitos e a abordagem de construção política e social do coronelismo continuam enraizados na política brasileira, basta que se olhe mais atentamente as províncias interioranas Brasil afora, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde este sistema infelizmente continua predominando.
É fato que a sociedade brasileira desde sua construção social na época da submissão à coroa portuguesa até os dias atuais continua sob um sistema coronelista, onde grupos locais auto denominam-se senhores das populações brasileiras, mais especificadamente de municípios e muitas vezes Estados inteiros. Estes reúnem-se esporadicamente para decidir a seu bel prazer os destinos de milhões de brasileiros como lhes convém, e tampouco estão preocupados com os avanços da sociedade brasileira, se isso não vos interessar.
Referências
LATORRE, A. Introdução ao Direito. Coimbra: Livraria Almedina, 1997.
LEAL, V.N. Coronelismo, Enxada e Voto. 4ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras. 2012. 368p.
LUZ, A.F.; SANTIN, J.R. Coronelismo e poder local no brasil: uma análise histórica. In: Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, Ceará, Brasil, p. 6011-6025, 2010.
NIVALDO JUNIOR, J. Maquiavel: O Poder – História e Marketing. São Paulo: Martin Claret, 2005.
STREIT, I.R. O Coronelismo e a Imigração. Passo Fundo: EDIUPF, 2003
STRECK, L.L.; MORAIS, J.L.B. Ciência Política e Teoria do Estado. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
WOLKMER, A.C. Ideologia, Estado e Direito. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Autor: Giovanni Paolo Ruffini (Cidadão ítalo-brasileiro, Professor de História, Filosofia e Sociologia)




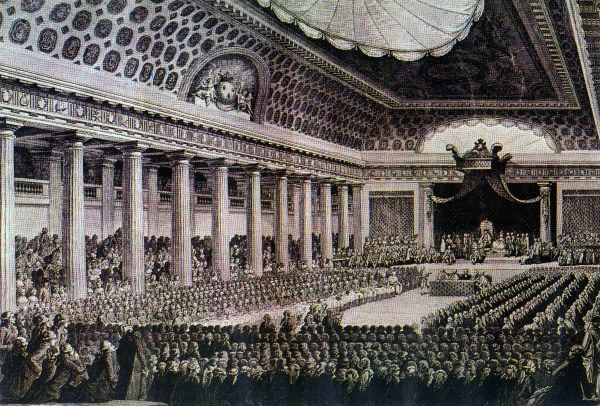
Comentarios